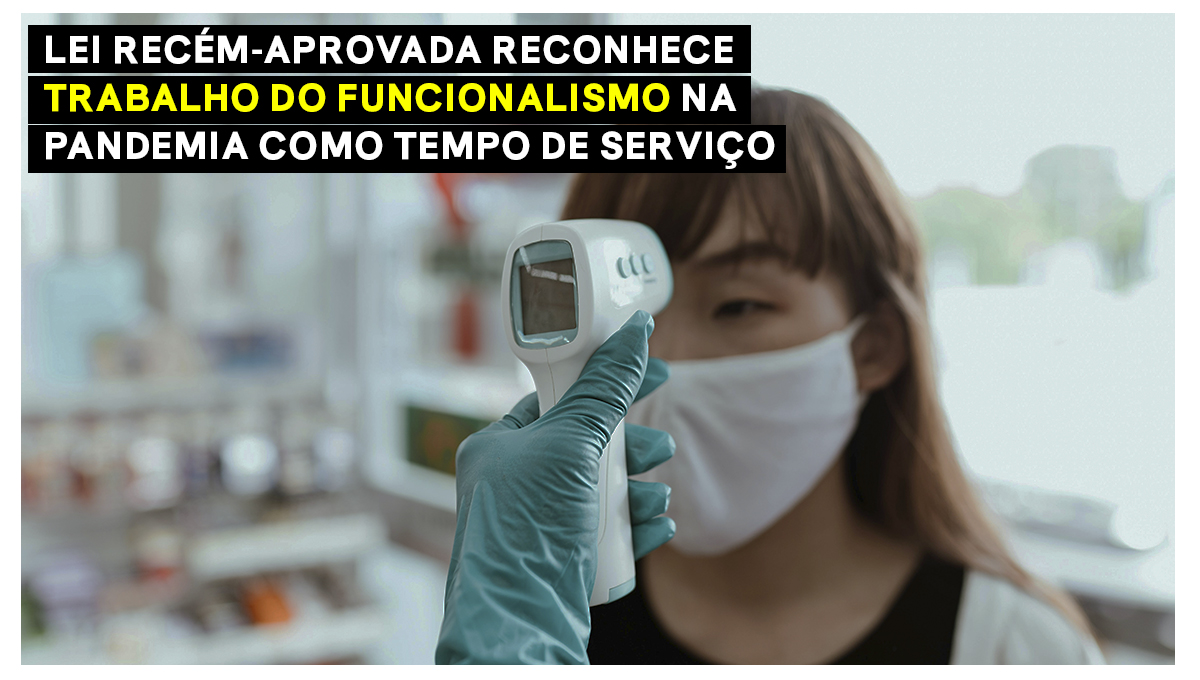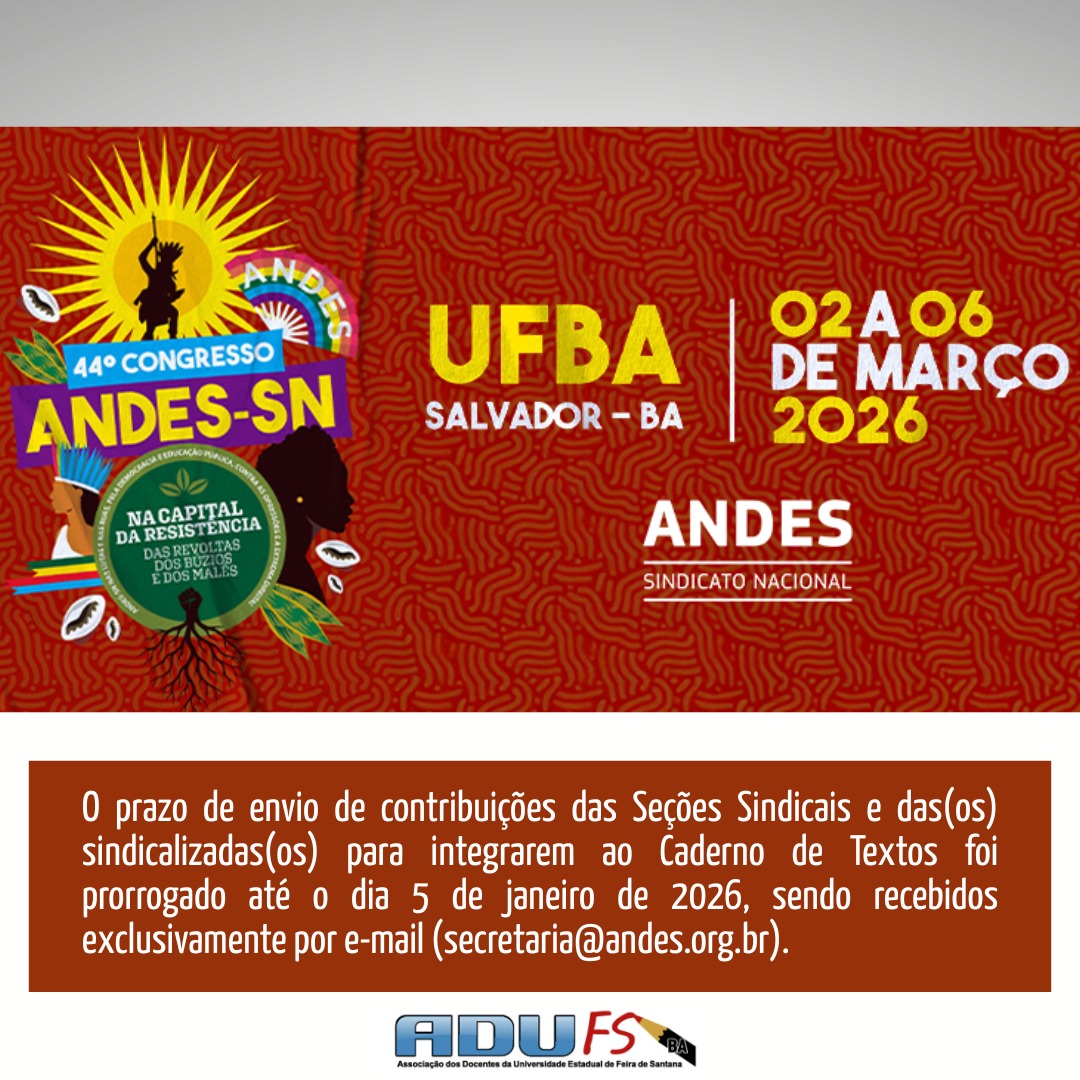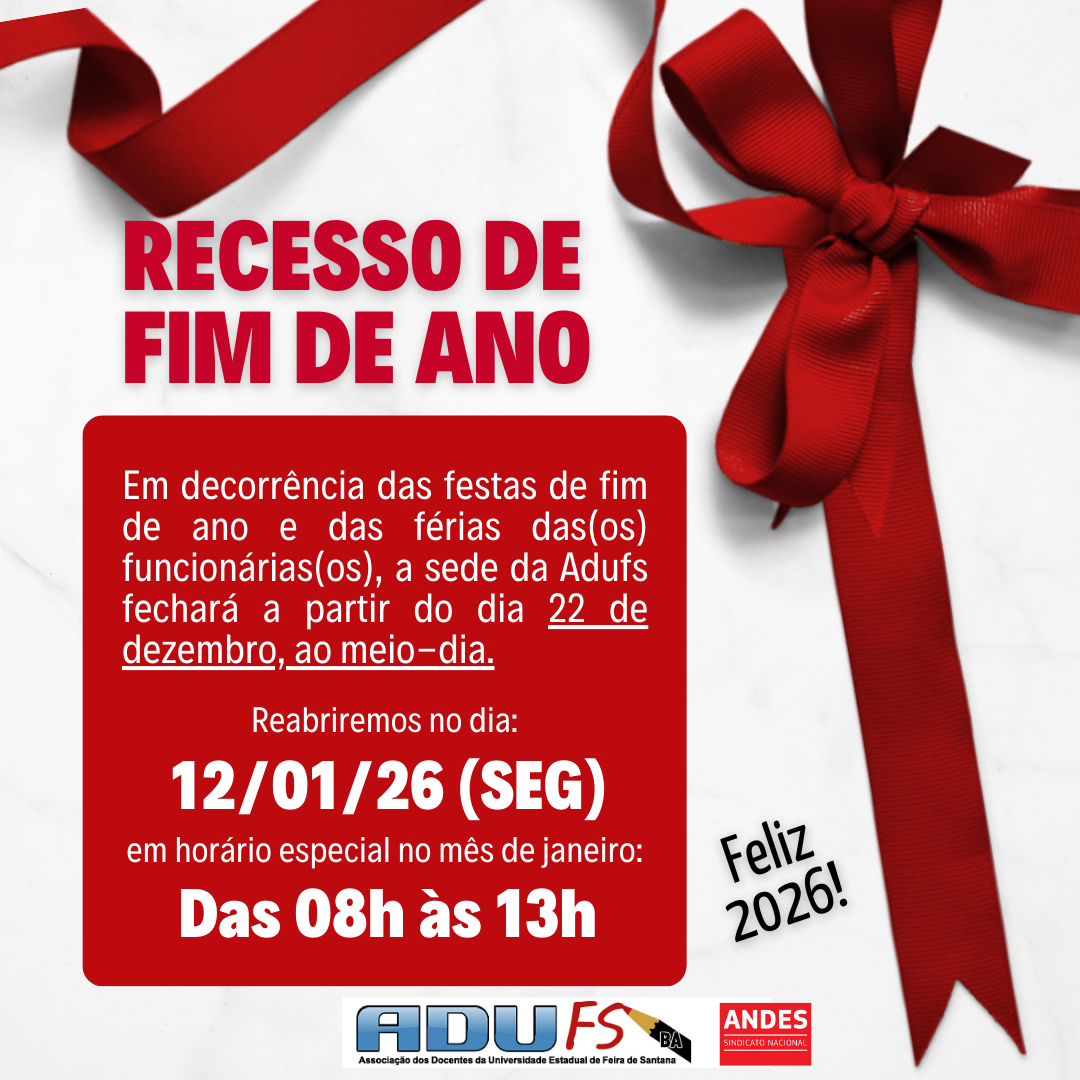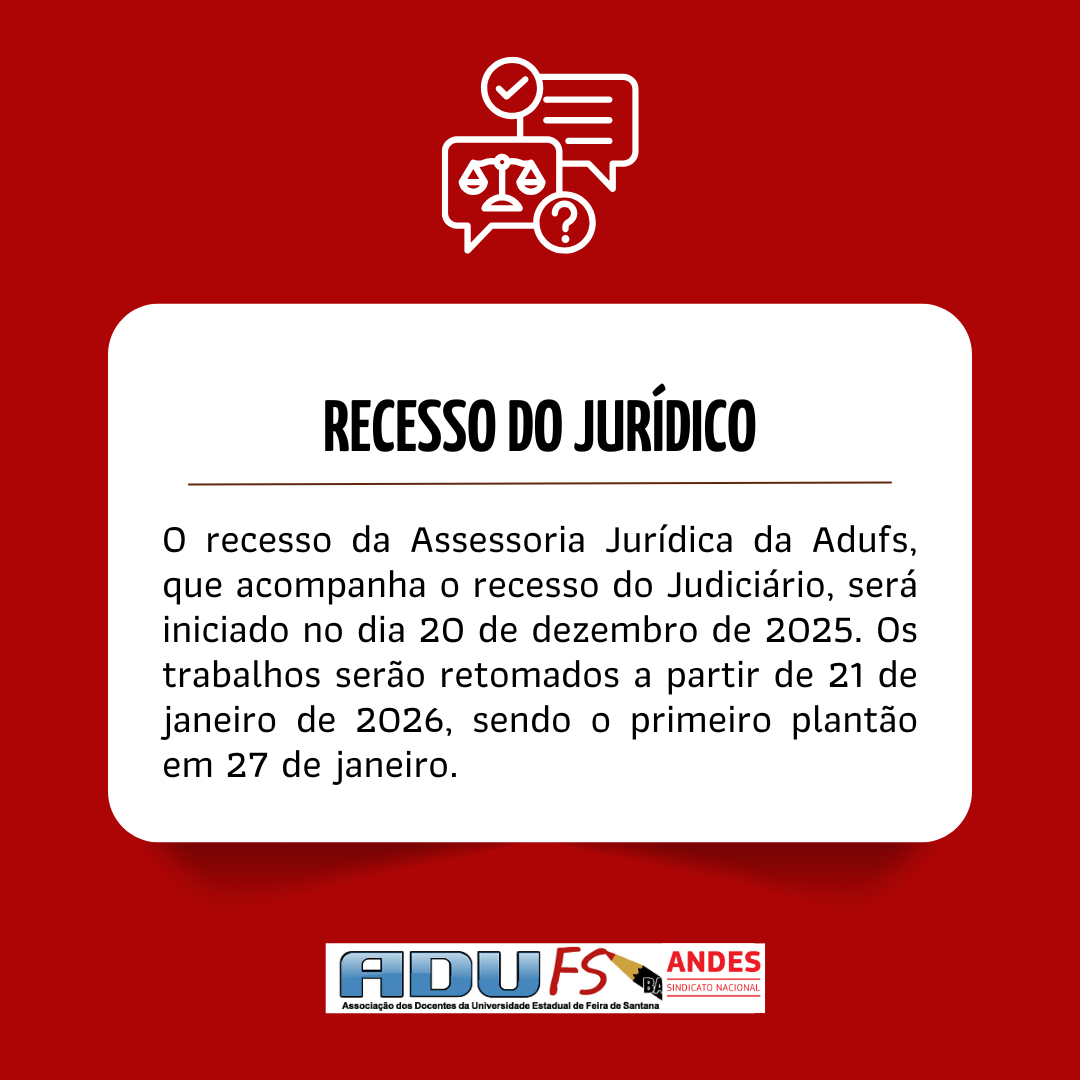A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção”, no qual estamos vivendo, é a regra.
Walter Benjamin
Clóvis Ramaiana Oliveira[1][2]
Na edição do dia 26 de julho de 2000, o jornal A Tarde publicou uma fotografia algo rara. A imagem colorida, ainda incomum no período, reportava um panorama aberto das avenidas Tancredo Neves e Antonio Carlos Magalhães na cidade do Salvador. Feita no sentido Leste-Oeste, era emoldurada por uma vaga visão da Rodoviária, ao Norte, e do Shopping Iguatemi, ao Sul. Ligando os dois centros e fazendo a parte de cima da moldura, estava a passarela. O ornato falava de transporte, comércio, pressa. Projetava uma Bahia Grande.
O conteúdo “emoldurado” trazia mais informações. Nele, a imagem projetava uma manifestação de docentes em greve. Estavam ali professores das quatro universidades estaduais da Bahia – aprendemos a chamar de UEBA no decorrer do movimento –, mais estudantes, mais servidores técnicos, mais gentes solidárias aos grevistas. Em destaque, um artista de rua jogava fogo para o alto. Oriundo de Alagoinhas, era dos que se incorporaram àquela paralisação em solidariedade aos lutadores.
A fotografia contava de outros acontecimentos. Pela ordem das gentes, em sua maioria vestidas com vistosas camisas negras, era evidente que só manifestantes e pedestres ocupavam a via pública. Já a posição do sol, coroando-se por detrás da imensidão do concreto, revelava que era fim de tarde na capital de todos os baianos. A principal via de tráfego de Salvador à época fora paralisada na hora do pico.
Em artigo publicado em 2001 na revista Universidade e Sociedade, número 25, Coelho e Sena afirmaram que a passeata “(...) paralisou o trânsito por mais de cinco horas e provocou a ira das autoridades e dos comerciantes do maior shopping do estado”. Acrescentaram ainda que cerca de 15% do PIB baiano foi travado pela caminhada.
Concluíram dizendo que a mobilização do fim de julho de 2000 foi o feito mais espetacular da greve (COELHO e SENA, 2001, p. 173).
Travar a capital numa boca da noite não é corriqueiro, ainda mais se levarmos em consideração que a travação não foi causada por algo acidental, mas pelo planejamento cuidadoso das mulheres e dos homens que compuseram os comandos daquela greve. Foram vontades articuladas que oportunizaram o fechamento das vias públicas ao cair da tarde – e não desejos ajuntados de forma aleatória, ao sabor dos ventos ou às constâncias das luas.
Duas outras raridades se coloiavam ao travamento. A primeira: o fato de ser um movimento de servidores públicos em greve, algo tornado raro ao longo dos anos de 1990. A segunda: o jornal A Tarde cobrir – e ainda noticiar em primeira página – movimentações sociais, era coisa bem rara naquele período. As atipicidades que surpreendiam na imagem citada, anunciavam os questionamentos à lógica que tinha ordenado a década de 1990. Era uma proposta de desarrazoar aquilo que vinha sendo tornada a Bahia.
A racionalidade que fazia o estado ganhara forma a partir de primeiro de janeiro de 1991. Naquela data, voltava ao governo a figura de ACM, pela primeira e única vez, através de eleições. Diferente das outras ocasiões, quando era um interventor indicado pelos militares e reconhecia a condição subalterna, no novo mandato, o velho oligarca almejava sonhos nacionais. Para alcançá-los, começou a navegar naquilo que foi a grande onda dos dominantes brasileiros do pós ditadura: o neoliberalismo.
“Cobra que muda a pele”, a versão noventa do carlismo operou com mudanças que objetivavam que tudo seguisse igual. Em relação às universidades estaduais, adotou políticas, ainda em 1991, que mitigavam a pequena autonomia conquistada na década de oitenta: interferência no processo eleitoral para reitor, arrocho salarial, teto para professores com dedicação exclusiva. De maneira mais lenta, a destruição paulatina do antigo Plano de Cargos e Salários, conquista da greve de 1985 e aprovado em 1986.
No plano mais geral, além do já citado rebaixamento salarial, que gerou uma redução de 40% do pagamento do funcionalismo (COELHO E SENA, 2001, p. 270), outras medidas mudavam a paisagem da Bahia: a privatização da Coelba, em 1997; da Telebahia, em 1998; do Baneb, em 1999. Além da extinção do IAPSEB por decreto, em 1998 – no segundo caso, com a privatização dos nossos serviços de saúde junto ao Planserv. Eram dores doídas, mesmo que algumas aparentassem ser pequenas.
Dores que criaram lutas e geraram lutos. Impossível deslembrar a luta dos eletricitários e telefônicos contra a privatização dos serviços de energia e telefonia. Confrontos duros contra a polícia carlista. Inesquecíveis foram as lutas dos bancários para impedir que o patrimônio dos baianos fosse parar em mãos privadas. Também não é possível olvidar até onde o desespero causado pelas privatizações levou: abandonos, adoecimentos, suicídios – neste último caso, especialmente dos banebianos.
O carlismo, cobra velha, não esqueceu das velhas práticas de violência. Durante os enfrentamentos contra as limitações na DE, a comunidade da UEFS foi espancada por seguranças de ACM na Praça da Igreja Matriz, em Feira de Santana, maio de 1992. Mais adiante, quando da votação da lei 7176, professores da UESB foram covardemente agredidos em plena ALBA, em dezembro de 1997. A segurança de Paulo Souto, em 1998, agrediu estudantes e professores da UESC no campus universitário.
Em tempos tenebrosos, importa reafirmar que a experiência do carlismo 9.0 não foi vivida sem resistências. Entre os docentes universitários, ganhou vulto especial a campanha da vergonha, que alcançou seu ápice em 1995, momento em que os professores tiveram incorporadas duas vantagens que praticamente dobravam os vencimentos, recuperando – para os da ativa – parte dos ganhos corroídos pela salariofagia que acomete o carlismo em suas variadas versões.
Mas era uma batalha desigual. Ao apagar das luzes de 1997, em regime de urgência, a ALBA aprovou a lei 7176, enviada pelo governo estadual. Era uma peça legal relativamente pequena: 29 artigos e dois anexos. Rebaixava profundamente a autonomia das UEBA, praticamente zerando os pequenos avanços da década anterior. Um dos artigos garantia a presença do secretário de educação no conselho administrativo, como garantia da nova ordem. O número de cargos ficava prisioneiro de um só, escondido nos anexos. Já os temporários ficaram na mesma gaiola.
Além de engaiolar carreira e cargos administrativos, a lei zerava a experiência de gestão das universidades baianas, as alternativas construídas na labuta: eleições departamentais conquistadas de gestões autoritárias, avanços em pleitos reitorais. No caso da UNEB e da UESB, o formato de faculdades era o garantidor da memória das lutas para conquistar os centros de ensino – em especial o que hoje são os campi de Alagoinhas, Juazeiro, Jacobina, Santo Antônio de Jesus e Caetité. O passado também quedava engessado.
O poder também cria, imagina, liberta. A peça legislativa foi além de engaiolar, engessar, zerar o passado. Nela, também vinha uma noção de tempo – mais precisamente, de organização dele. No seu artigo 11 era dito o seguinte: “(...) poderão as Universidades Estaduais da Bahia celebrar contratos, convênios e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais ou internacionais” (Leis Estaduais). A imaginação neoliberal dava um passo importante com a aprovação da cláusula.
Não era exatamente uma novidade os cursos de pós-graduação pagos nas UEBA. Desde o começo da década, era possível fazer especialização em algumas áreas mediante pagamento. A abertura proporcionada pela lei, entretanto, escancarou as porteiras para um crescimento exponencial – uma explosão. Explosão que incluiu as especializações e suas administradoras – as fundações – na paisagem dos campi das UEBA. Também serviu de caminho para complemento salarial de professores acossados pelo arrocho carlista.
“A especialização vai parar?” A ventania dos cursos de pós-graduação autofinanciados – eufemismo bonitinho – funcionou como um instrumento de captura de colegas para formas distintas de fazer universidade. Vento forte o suficiente para estabelecer concorrências entre a formação de especialistas e a graduação. E para soprar sementes de desencontros entre professores, departamentos, grupos de atuação. Ainda que não seja necessário dizer, a possibilidade de parar um curso “autofinanciado” era sempre colocada em cena quando surgia a sombra de uma greve.
Evidentemente, não é possível estabelecer uma causalidade direta entre os climas que viviam os campi e a dificuldade que algumas AD – notadamente a ADUFS e a ADUNEB – tiveram para manter suas diretorias em funcionamento. No primeiro caso, o edital da diretoria de 2000 teve de ser repetido. E no segundo, depois da morte do combativo diretor Carlão, a diretoria praticamente se extinguiu. O quadro em duas das secções marcava a dificuldade de manter ativo o coletivo em torno da luta docente.
A sensação de quem vivia o cotidiano dos campi era de seca. Pouca gente articulada em volta das pautas docentes; “farinha pouca, meu pirão primeiro”; muitos e pequenos motivos de disputas em torno do pouco que se tinha; brigas paroquiais colocadas à frente de unidades – estas últimas, sobretudo na UNEB. A prosa em volta de sentimentos coletivos não era estimulada, ainda que não fosse formalmente reprimida. Eram tempos de seca: pouca terra para semear e, principalmente, raras mãos semeadoras.
Como diz uma boa historiadora unebiana, “a seca é o inverno de muita gente” (SANTOS, 2014). A fragmentação daquele fim de década foi aproveitada por burocracias universitárias e pelos patrocinadores do neoliberalismo para consolidar uma paisagem individualista no cotidiano dos campi. O cenário estimulava cantilenas dos tempos de murici – cada um por si –, e reproduzia um horizonte psicopolítico de inimizades, apartamentos, distanciamentos e desarticulações.
Fazendo do “tropeço um passo na dança”, o movimento docente insistia em arrancar do governo estadual as condições mínimas de seguir fazendo universidade na Bahia. Entre o final de 1999 e o começo de 2000, fez algumas tentativas de conseguir audiência para tratar da desesperadora situação salarial – para fins de comparação, um professor auxiliar 40 horas, a maior parte da categoria, ganhava menos que uma bolsa de mestrado. Todas as tentativas deram em nada. A resposta do carlismo era o silêncio.
O não reconhecimento dos sindicatos era a forma de dizer “tô nem aí para vocês”. Com o mutismo em relação às representações dos trabalhadores, as gestões carlistas sintetizavam um princípio do neoliberalismo: a recusa em aceitar a noção de sujeitos coletivos e afirmação das individualidades como única forma de fazer política. Princípio anteposto à prática de construir saídas conjuntas, inimigo da organização dos subalternos e a sua luta.
No mês mais dançante do ano, em um dia 8, o silêncio governamental começava a ser respondido: UEFS e UESB entraram em greve, seguidas “prontamente pela UESC”, nas palavras de Coelho e Sena. Na UNEB, praticamente sem diretoria sindical, a entrada foi um pouco mais delongada. Além da ausência de direção sindical, contribuíram para a demora as divergências de ritmo entre as diferentes unidades. Somente no fim do mês a categoria conseguiu unificar a maioria dos campi e, em uma tumultuosa assembleia, entrar em greve.
Como lembram Coelho e Figueroa, não foi uma greve fácil. “O uso do cachimbo deixa a boca torta” – a rarefação de movimentos paredistas durante os anos de 1990 e o sucesso das políticas de inimizade nos campi trouxeram complicadores. Além de gente furando greve, inclusive um campus inteiro da UNEB, colegas que eram juízes ameaçaram professores de prisão, em Juazeiro e na UESC, diretores pressionaram, a maioria dos reitorados fez o jogo sujo do governo. Cortaram salários.
Apesar do arsenal de dificuldades, a greve durou setenta e cinco dias. Por mais de dois meses, a normalidade neoliberal foi suspensa nas UEBA, a frágil democracia interna foi questionada, direções autoritárias desautorizadas. Até a cartografia dos campi universitários foi refeita, com a construção de monumentos, elaboração de novas toponímias, plantios de árvores.
Foi tempo de semeadura. Jogo de semente em terra pedregosa. Na primeira reunião com o então secretário de educação, Eraldo Tinoco, os colegas que representavam os comandos de greve ouviram dele uma frase terrível: “precisamos financiar as universidades a partir da cobrança de taxas”. De “dentro”, o mesmo murmúrio era ouvido: as gentes que habitavam os gabinetes das administrações superiores defendiam, em assembleias, que já era tempo de pensar em autofinanciamento.
A dureza do terreno não impediu a reinvenção das UEBA no chão concreto da luta. Plantio de muitas de muitas mãos: movimentos como “universidade na rua”, enterro das políticas governamentais, passeatas por praticamente todas as cidades que tinham campus de alguma estadual. Boas passeatas, como a já citada na abertura deste testemunho. Houve até ocupação de reitorias, fruto de um movimento docente que se agrupou ao tempo em que ampliava as relações com as comunidades que dão vida às universidades.
Apesar disso de tudo isso, quando o movimento foi encerrado conjuntamente, por UNEB, UEFS E UESB, nenhum ganho poderia ser contabilizado como oriundo diretamente do movimento (que recusou, em assembleias, a proposta de 3,82% da receita corrente líquida do orçamento para as UEBA, feita pelo governo em acerto com o Fórum dos reitores). Mal cessou o estalar das palmas das emocionantes AGs de conclusão da greve, vozes se esparramaram pela Bahia em insistentes “não disse?”, cafangavam que fôramos derrotados.
Será? No português brasileiro rural existe uma frase que significa romper com um sortilégio, “quebrar a pata”. Ainda que os resultados eleitorais não tenham aparecido em 2000, nem mesmo em 2002, ao fim da nossa greve, vários outros segmentos de servidores públicos paralisaram suas atividades. Movimentos submetidos pela repressão e a propaganda irromperam, como os estudantes secundaristas que tomaram conta da cidade do Salvador por vários dias ou os da UEFS, cuja greve questionou diretamente o modelo de universidade (ambos em 2003). Virtualmente, quebramos a pata do carlismo.
E não ficou apenas na repercussão pedagógica ou na centelha que incendiou a pradaria, para recordar velha metáfora comunista. A partir do movimento, foi montada a comissão que deveria debater o Estatuto do Magistério. Feita sob a ideia paridade – reitorias, Ads e governo – demorou um tanto para ser efetivamente instalada. Foi finalmente iniciada em 2001 e encerrada no ano seguinte com a votação pela ALBA, literalmente ao apagar das luzes, e depois de mais uma greve.
O Estatuto pode ser considerado como um dos objetos da greve de 2000, um dos troféus conquistados. Acontece, para recuperar a inspirada imagem de Ítalo Calvino, que o objetivo atingido é uma coisa que fala de outras coisas. Surgiu impregnado do chão da caminhada, dos suores das mulheres e dos homens que resolveram desafiar o carlismo no outono-inverno do primeiro ano do século XXI. Interessa visitar a poeira molhada para dela extrair o que foi sintetizado na Lei nº 8.352/2002.
Na contramão das políticas de inimizade, a construção da greve foi baseada em relações de solidariedade, mesmo nos momentos de maior tensão e disputa. Sindicatos mais estruturados prestaram ajuda material aos menos. Na construção das AGs da UNEB, por exemplo, rolaram caronas solidárias, inclusive de colegas que não se conheciam. Durante o corte dos salários, foi notável o socorro que os companheiros prestaram uns aos outros, tanto com recursos diretos quanto com a construção de alternativas para materializar ajuda.
A marca dos dijitórios também esteve presente na construção do Estatuto. O projeto, debatido em vários encontros locais e dois estaduais, foi tratado como uma realização coletiva. Contra a maré que incentivava individualismos, compreendemos que era fundamental o estimulo à colaboração (participação em banca, consolidação de linhas de pesquisa, projetos de investigação e extensão) e o entendimento da carreira de forma integrada (como certamente diriam os irmãos do sertão de Pernambuco), valorizando participações em administrações, direções sindicais, representações políticas.
Parte da solidarização nasceu da compreensão – talvez fosse mais justo dizer: do susto – de que era preciso defender a universidade pública! O espantoso crescimento de instituições privadas, o avanço de cursos pagos dentro dos campi, o discurso abertamente privatista de dirigentes, do estado e das universidades, acendeu o alerta: era preciso uma carreira que nos ajuntasse e garantisse a isonomia entre os docentes, quando houvesse premiação, que fosse para todos, e os avanços verticais por mérito estivesse ao alcance de qualquer colega.
Como dito antes, a defesa da universidade pública se consolidou garantindo aos colegas em atividade externas, com a comunidade e além, os direitos necessários para seguirem fazendo sua carreira/caminhada. Aprofundávamos – em alguns casos criávamos – elos comunitários, possibilidades de proseamentos das UEBA com as mais diferentes Bahias: desde a que precisava de extensão agrícola no Norte à que cobrava um curso de formação para trabalhadores roceiros no Sul, ou o trabalho com os sambadores do recôncavo (e os docentes seguiam amparados pelo EM).
A defesa da libertação das DEs de qualquer amarra reitoral ou burocrática foi parte fundamental da conquista. Entendíamos que não se faz universidade pública sem o regime de exclusividade do trabalho docente, e que a não consolidação de uma maioria de professores trabalhando exclusivamente nela é uma limitação gigantesca à sua radiculação. Fazia parte da compreensão a finalização do processo no âmbito da própria instituição, eliminando os jogos de poder em torno questão.
“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. Outra das conquistas consolidadas no EM foi a formação continuada. Apesar de já existir antes, como conquista, a reafirmamos na nova lei e deslocamos o centro de decisão para o departamento, evitando assim que a liberação fosse tornada moeda em jogos de disputas de reitorados, prática até então recorrente em algumas das UEBA.
As conquistas do EM seguem sob ataque de um governo petista, o que demonstra que o neoliberalismo é ambidestro – pelo menos na Bahia. Ataques que forçam nosso olhar para o texto que epigrafa esta escrita. São duas partes. A primeira adverte acerca da permanência dos estados de exceção, cobra vigilância, capacidade de defesa. A segunda recomenda o aprendizado pela tradição dos oprimidos.
Sobre as tradições dos subalternizados, o escritor haitiano Jacques Roumain escreveu, enquanto troavam os canhões da Segunda Guerra, um bonito romance intitulado Senhores do orvalho. A obra é uma tentativa de documentar o mundo de fazeres coletivos dos camponeses negros da ilha, inventário que aponta para as possíveis causas da desagregação da forma de viver comunitária. Roumain destaca dois motivos que inviabilizavam o labor grupal: o silêncio dos cantadores do cumbite e vinganças intracomunitárias.
Interpelando o livro, temos duas possibilidades de construir o caminho: 1) O debate acerca das políticas de inimizade, sem que isso signifique silenciar a divergência, mas tratá-la na perspectiva da escuta e da prosa – coisas que exigem o aprofundamento das práticas democráticas. 2) Apurar as ouças para a voz dos trabalhadores, daqueles que sustentam as universidades públicas no cabo da enxada ou nas duras labutas das ruas das cidades baianas. Dos sons saídos do conversê de quem efetivamente faz o estado, emergem razões operadas para além da lógica produtivista que emana das burocracias.
Os muitos dias que passamos entre a greve de 2000 e a conquista do EM foram de descobertas de veredas e olhares sobre a paisagem. Soubemos, talvez com algum espanto, do papel das UEBA no estado, da sua presença entre os mil sotaques que fazem a Bahia. Encontramos os fazedores das universidades, mulheres e homens que as imaginavam para todos e escritas pelas subalternizadas – gentidade que ousou desfazer os coros do carlismo.
Por variados caminhos, a fotografia do jornal A Tarde de 26 de julho de 2000 sintetiza a caminhadura. Trabalhadores de rua, docentes, técnicos, estudantes – todos desafiavam a razão dos de cima, convergindo suas alteridades para a construção de um roteiro rompedor com a lógica de produção/circulação do capital. As chamas sopradas pelo artista propugnavam arrancar uma poética distinta dos campi universitários das UEBA. Era tempo de fazer caminhos a muitas mãos. E “caminho se faz caminhando”.